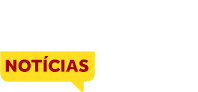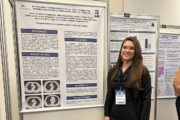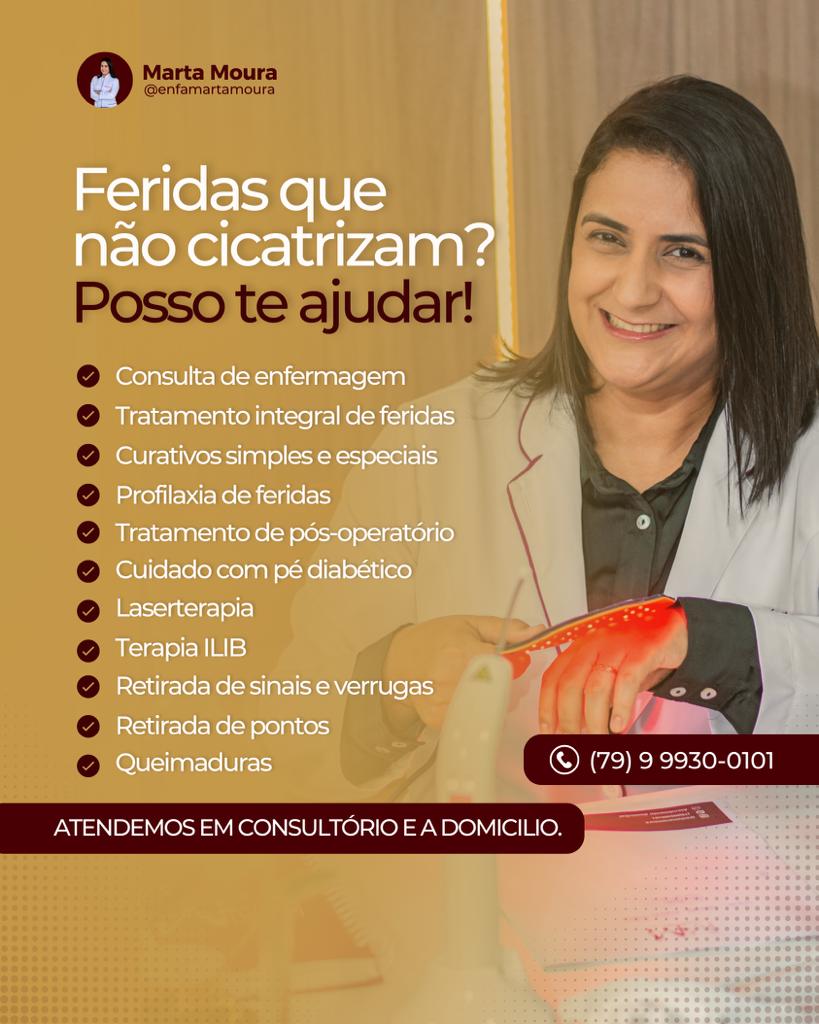A Justiça condena mais uma vez o Município de São Cristóvão, na gestão do prefeito Alex Rocha (PDT).
A Justiça condena mais uma vez o Município de São Cristóvão, na gestão do prefeito Alex Rocha (PDT).
A Prefeitura é acusada pelo Ministério Público de provocar danos ao meio ambiente.
Confira abaixo a decisão na íntegra.
Processo nº 20118300025
Requerente: Ministério Público de São Cristóvão
Requerido: Município de São Cristóvão
“O meio ambiente é, atualmente, um dos poucos
assuntos que desperta o interesse de todas as
nações, independentemente do regime político ou
sistema econômico. É que as consequências dos
danos ambientais não se confinam mais nos
limites de determinados países ou regiões.
Ultrapassam as fronteiras e, costumeiramente,
vêm a atingir regiões distantes. Daí a
preocupação geral no trato da matéria que, em
última análise, significa zelar pela própria
sobrevivência do homem.” (Vladimir Passos de
Freitas, na obra “Direito Administrativo e Meio
Ambiente, p. 7).
Vistos, etc…
O Ministério Público do Estado de Sergipe, por conduto de seu representante que oficia junto à Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Urbanismo, propôs, perante este juízo, AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face do Município de São Cristóvão, já qualificado, aduzindo que, a partir de representação formulada pela Escola Superior do Ministério Público, foi instaurado o Inquérito Civil nº 24.11.01.0087, visando verificar a existência de possíveis danos ambientais causados pela destruição de área de vegetação natural, considerada de preservação permanente, localizada às margens do Rio Poxim, em razão da omissão do Réu. O Relatório de Fiscalização Ambiental nº 335/2011/GEFIS/ADEMA, concluiu que
“a margem direita do Rio Poxim localizada nas proximidades do final de linha de ônibus do Conjunto Eduardo Gomes se encontra ocupada irregularmente por residências e pontos comerciais, estando em desacordo com o que preconiza a legislação ambiental vigente.” E ainda, “o local ocupado compreende a faixa de terra que corresponde aos domínios da mata ciliar que tem dentre outras funções proteger as margens do rio. As residências encontradas no local não possuem sistema de tratamento de efluentes sanitários, que são lançados diretamente no rio sem nenhum critério de tratamento…”. Asseverou que, a omissão do Poder Público, quanto ao dever de fiscalizar e proteger o meio ambiente, ensejou a destruição da vegetação natural de área de preservação permanente (mata ciliar) por parte de terceiros não identificados, provocando dano ambiental. Requereu a condenação do Réu em: a) promover a fiscalização das áreas de preservação permanente localizadas em São Cristóvão; e b) a promover, no prazo de 1(um) ano, a revitalização e o replantio da mata ciliar do Rio Poxim, ou em caso de impossibilidade técnica ambiental demonstrada, a indenizar em valor de R$ 5.00,00(cinco mil reais), a ser revertido na forma do art. 13 da LACP, sem prejuízo de outras providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento. Juntou documentos de fls. 12/28.
Regularmente citado, às fls. 30, o Réu apresentou contestação, às fls.
32/39, alegando inicialmente a ausência de recursos, a par da crescente demanda por direitos à saúde, educação, saneamento básico, etc…; que a realização da fiscalização das áreas de preservação permanente, a revitalização e o replantio de mata ciliar do Rio Poxim, no prazo de 01(um) ano, está limitada por parâmetros de ordem financeira, tendo em vista outras ações mais urgentes e prioritárias. Com base na cláusula da reserva do possível, asseverou que é proibido ao Judiciário determinar ao Executivo a execução de obras não compatíveis com a sua disponibilidade financeira; e, ainda, que o Poder Judiciário está intervindo no Poder Executivo, afrontando o Princípio da Separação de Poderes. Pugnou pela improcedência do pleito inicial.
Às fls. 39v., foi o MPE instado a se manifestar, e o fez às fls. , refutando
todos os termos da contestação apresentada pelo Réu.
Não havendo mais provas a serem produzidas, volveram-me os autos
conclusos para decisão. Julgo o feito antecipadamente (CPC, art. 330, II).
É o relatório. Passo a decidir.
Cuida-se de Ação Civil proposta pelo MPE em face do Município de São
Cristóvão, em decorrência da ausência de fiscalização deste, que ocasionou a degradação ambiental decorrente da destruição de vegetação nativa em área de preservação permanente, por terceiros .
O Réu apresentou contestação alegando a falta de previsão orçamentária,
a aplicação da cláusula da reserva do possível, e a não intervenção do Poder Judiciário no Poder Executivo.
Vislumbro a desnecessidade de instrução do feito, visto que a matéria agitada é de fácil apreciação, embora composta por elementos de fato e de direito. Os aspectos fáticos iniciam-se pelo exame da documentação acostada em sua fase regular, não havendo necessidade de produção de prova oral em audiência, ensejando a possibilidade de julgamento antecipado da lide, encaixando o pedido autoral no inciso II do art. 330 do Diploma Processual.
Civil.
Após a fase postulatória, o Juiz deve observar detidamente a questão.
Sentindo-se suficientemente convencido dos fatos expostos pelas partes e observando não carecerem de produção de provas, deverá antecipar o julgamento da demanda. Da mesma forma agirá quando as provas documentais anexadas aos autos pelo autor o levarem ao exaurimento da
cognição acerca dos fatos expostos.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, caso se tenha certeza da prescindibilidade da audiência instrutória, estando o Magistrado suficientemente convencido para prolatar sentença, espalhando seu juízo de certeza.
No caso em tela, estamos diante de uma questão de fato e de direito, mas
que não precisa de instrução ou maiores provas, posto que o que foi angariado nos autos, ou seja,
os documentos anexados permitem ao Juiz decidir a lide.
É certo que o Magistrado ao apreciar a possibilidade ou não de julgar
antecipadamente a lide, em especial, deve se ater a presença de seus pressupostos e requisitos,
sendo que, após configurados, não é lícito ao Juiz deixar de julgar antecipadamente.
Para corroborar estas alegações, recorro ao jurista
Sálvio de Figueiredo Teixeira, citado por Joel Dias Figueira Jr. : “(…) quando adequado, o julgamento antecipado
não é faculdade, mas dever que a lei impõe ao julgador.” E mais: “Desde que a hipótese em
concreto se enquadre nos moldes dos incisos I e II do art. 330, o julgamento se faz mister sem
que se verifique qualquer tipo de cerceamento. Trata-se, portanto, de dever do juiz e não de
faculdade ou simples liberalidade.”
A Jurisprudência é assente:
“(…)1. O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica
cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória.
(Precedentes). 2. O art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão
racional, valendo-se o magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se
dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação
que entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam
o julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que
conspira a favor do princípio da celeridade do processo.(…)”(AgRg no REsp
417830 / DF; AGREsp 2002/0019750-3 Ministro LUIZ FUX T1 –
PRIMEIRA TURMA DJ 17.02.2003 p. 228)
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS –
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA
PERICIAL E TESTEMUNHAL – CERCEAMENTO DE DEFESA –
INOCORRÊNCIA – Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes,
indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, decisão essa que
não viola o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, se a
questão de mérito é unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não
houver necessidade de produção de provas, tendo em vista os documentos já
carreados para os autos.” (TJMG – Agravo nº 000.166.042- 2/00 – Comarca de
Belo Horizonte Relator Des. José Antonino Baía Borges – Pub. 07/04/2000).
Desta feita, afasta-se a argüição de cerceamento de defesa.” (Apelação nº
7872/2009. De. Rel . José Alves Neto)
Apenas para impedir eventuais motivações recursais, quanto a prescindibilidade de audiência instrutória, esclareço que a prova em juízo deve se prender a fatos Pertinentes, Necessários e Relevantes à formação da convicção do Juiz. A análise daquilo que seja “ponto controvertido” a ser demonstrado quando da audiência de instrução de julgamento
passa pela existência de “fato” que seja “dependente de prova oral”. Não se pode conceber que
haja fato controverso, quando este se faz dissipar por prova documental ou pericial. A audiência
instrutória, apesar de ser corolário do Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, não deve
ser utilizada como instrumento de postergação de feitos ou satisfação pessoal da parte de ser
ouvido pelo Juiz. A Audiência de Instrução deve ser utilizada apenas para a colheita de prova
oral imprescindível ao julgamento.
Os pontos dependentes de prova oral também não podem advir de
avaliações subjetivas. O Testemunho compromissado ou descompromissado se prende a FATOS,
e não a roupagem jurídica do fato.
Neste sentido o Tribunal de Justiça de Sergipe, sendo Relator o Des.
José Alves Neto, já se pronunciou a respeito, em semelhantes casos julgados por este Juízo:
“Insubsistente se faz este argumento, pois, de acordo com o art. 130 do CPC,
cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias. Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (Theotônio
Negrão, CPC e Legislação processual em vigor, nota 1 ao art. 130, 27ª edição,
1996). Reza o art. 330, I, do CPC, que O juiz conhecerá diretamente do
pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de
direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir
prova em audiência. ‘In casu’, o douto magistrado singular ressaltou que
estamos diante de uma questão de fato e de direito, mas que não precisa de
instrução ou maiores provas, posto que, o que foi angariado nos autos, ou
seja, os documentos anexados, permitem ao Juiz decidir a lide.”
Os ensinamentos do doutrinador processualista civil, Misael
Montenegro Filho, em curso de Direito Processual Civil, volume 1: teoria geral do processo
e processo de conhecimento – 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2009, pág. 204, são:
“Entendemos que o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe
quando for a hipótese, em atenção aos primados da celeridade, da economia
processual e da razoável duração do processo, evitando a prática de atos
procrastinatórios, que afastam a parte da prestação jurisdicional desejada.
Deferir a prestação jurisdicional não é apenas garantir a prolação da
sentença de mérito, mas, em complemento, que esse pronunciamento seja
apresentado no momento devido, sem alongamentos descabidos.”
O Magistrado não precisa anunciar o Julgamento Antecipado da Lide
pois quem já faz isto de forma clara é a própria Lei Processual, sendo uma das opções possíveis
ao final da Fase Postulatória do Processo de Conhecimento. Não haverá surpresa para qualquer
das partes. Tampouco se constitui em Cerceamento de Defesa para o Réu somente porque
protestou por prova pericial. Segundo o preceito constitucional, ninguém é obrigado a fazer (ou
deixar de fazer) senão em virtude da lei”. Isto é a Regra de Clausura ou Fechamento hermético do
Direito: “tudo que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido.”
É o “DIREITO DE NÃO TER DEVER”.
No que pertine a alegação de que está havendo interferência do Poder
Judiciário na discricionariedade do Administrador/judicialização excessiva, verifico que se
trata de velada questão jurídico-processual, que bem poderia ter vindo na forma de preliminar ao
mérito, da qual resulta, se acolhida, no reconhecimento da Impossibilidade Jurídica do Pedido
por injuridicidade da causa de pedir – fundamento jurídico não admitido pelos sistema vigorante.
No século passado, o controle jurisdicional dos atos administrativos pelo
Poder Judiciário era pouco admitido sob o argumento de que tal controle implicaria afronta ao
Princípio da Tripartição dos Poderes.
Contrapondo-se à pura repartição de poderes independentes
absolutamente pregado por Montesquieu, no Espírito das Leis, a Constituição Federal adotou o
check and balances americano, onde poderes independentes são harmônicos entre si, criando-se
o controle mútuo como forma de frear o poder ilimitado, que desembocaria no absolutismo, o
que não se coaduna com os princípios democráticos.
Admitido o controle, porém, estabeleceram-se limites de atuação para
guardar a essência da independência dos poderes. Assim, o controle dos atos administrativos
pelo Poder Judiciário restringir-se-ia à análise de sua legalidade formal e material, jamais poderá
adentrar na esfera de discricionariedade conferida ao Administrador Público.
Historicamente já vivenciamos a época do Super-poder Legislativo,
como responsável pelas escolhas das prioridades políticas e sociais, a partir do orçamento
público e ingerências fortes. O comportamento pernicioso dos membros deste Poder de
República, afeitos a práticas de politicagens mesquinhas, acordos financeiros, corrupção, desvios
de verbas públicas, etc., levaram-no ao descrédito absoluto junto à população.
Também já vivenciamos a época do Super-poder Executivo, como
praticante dos atos administrativos típicos, único gerenciador das verbas públicas, fazendo gerar
a máxima jurídica de que o controle judicial dos seus atos somente se faria a posteriori e nunca a
priori, mesmo assim apenas quanto aos atos vinculados, já que, quanto aos discricionários,
ficavam ao talante do titular, quanto à conveniência e a oportunidade quase sacrossanta de
escolha. A falta de compromisso público-social com o povo que elegeu representante, as
falcatruas generalizadas com prejuízo para o erário, etc., fizeram colocar sob suspeição prévia de
inidoneidade os titulares do Poder.
Quebrando, mais uma vez, o Princípio da Soberania e Independência dos
Poderes Republicanos, também quebrando o sistema de freios e contrapesos, surgiu, por absoluta
falência moral dos demais Poderes e diante dos reclames da cidadania, o Super-poder Judiciário,
compelido a agir, em muitos casos se arvorando em atos que, a rigor, nunca lhe competiriam.
Ante a letargia crônica de um Poder Legislativo que não legisla – já que
passa quase todo o tempo com “pauta trancada” pela edição anacrônica de Medidas Provisórias,
e só aprova Leis por “acordo de lideranças” – envolto a escândalos, o Poder Judiciário a cada dia
emite, mais e mais, Decisões Normativas, diante da lacunas legislativas, a exemplo das
disposições quanto a Nepotismo, Direito de Greve de Servidores Públicos, demarcação de terras
indígenas, etc., isto sem falar das Súmulas Vinculantes, que são verdadeiras normas casuísticas.
Do mesmo modo, ante a falta de compromisso político e social dos
titulares do Poder Executivo, fez-se necessário alterar o sistema de controle judicial dos atos
administrativos, deixando de ser a posteriori e tornando-se apriorístico, dada a premência dos
sucessivos casos de afronta à ordem pública, bem como permitindo a revisão imediata dos atos
discricionários.
Não cabe a mera pecha de que a atuação do Judiciário é ilegal porque a
Constituição não permite a ingerência na atividade do Executivo. Querer o Executivo apontar de
ILEGAL o procedimento judicial ante a cômoda alegação de que tal ou qual despesa não está
prevista na lei orçamentária, para fugir, como sempre, de sua responsabilidade constitucional é,
no mínimo, hilário. Um Estado que não constrói – ou pelo menos esboça “uma sociedade livre,
justa e solidária” (Art. 3º, I, da Constituição Federal); não erradica “a pobreza e a
marginalização” (Art. 3º, III, da Constituição Federal); não promove a “dignidade da pessoa
humana” (Art. 1º da Constituição Federal); não assegurando “a todos existência digna,
conforme os ditames da Justiça Social” (Art. 170 da Constituição Federal); não empresta à
propriedade sua “função social” (Art. 5º, XXIII, e 170, III, da Constituição Federal); não dando
à família, base da sociedade “especial proteção” (Art. 226 da Constituição Federal), e não
colocando a criança e o adolescente “a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, maldade e opressão” (Art. 227 da Constituição Federal), enquanto não
fizer tudo isto, elevando os marginalizados à condição de cidadãos comuns, pessoas normais,
aptas a exercerem sua Cidadania, o Estado não pode falar em Legalidade de procedimento
próprio, nem exigir estrito cumprimento de lei.
As reiteradas omissões executivas nas aplicações das políticas públicas
introduz uma nova caracterização para os conflitos sociais, à medida que transfere para o
Judiciário a incumbência de resolver os inerentes ao poder constituído pela soberania popular.
Nesta esteira, a sociedade busca no Judiciário a satisfação de direitos e a
aplicação das políticas instituídas por leis que não são aplicadas, ou pela falta de recursos, ou até
mesmo pela inércia do Administrador Público. Em decorrência desta realidade, a real função dos
juízes acaba se alterando, ao passo que se tornam responsáveis pelas políticas de outros poderes,
passando a orientar suas atuações de forma a assegurar a integridade da Constituição e dos
direitos, tanto individuais, como difusos dos cidadãos. Assim, para produzir a justiça esperada
em uma situação específica, o juiz deve ter sensibilidade para julgar cada caso, encontrando a
norma e adequando-a aos princípios constitucionais.
Considerando o disposto no art. 5º XXXV “A lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito”, percebe-se que o Judiciário tem
competência legal para obrigar o Poder Executivo a implementar políticas públicas sempre que
este for omisso no campo dos chamados “direitos sociais”. Nesse sentido, a discricionariedade
do Executivo, a quem cabe a responsabilidade não é absoluta, uma vez que o acesso aos direitos
sociais não é decisão de conveniência ou oportunidade, mas sim determinação
constitucional-legal, gerando o dever de agir por parte do Administrador Público.
É preciso esclarecer que o Gestor Público não está administrando sua
vida privada, onde pode praticar atos aleatoriamente, como se a prestação do serviço ao público
fosse fruto de generosidade.
A omissão do Executivo importa em flagrante violação ao direito
fundamental e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Assim, é dever
inafastável do Estado (União, Estados e Municípios) empreender todos os esforços para a sua
tutela sob pena de violação da CF.
O Poder Judiciário, no exercício de sua alta e importante missão
constitucional, deve e pode impor ao Poder Executivo, de qualquer esfera, o cumprimento da
disposição que garante o direito do cidadão, sob pena de compactuar com a piora da qualidade
de vida de toda sociedade.
A judicialização de política pública, aqui compreendida como
implementada pelo Poder Judiciário, é exigência da soberania popular, pelo exercício da
cidadania, além de harmonizar-se integralmente com a Constituição de 1988. O problema é que
o Poder Executivo está permeado de ADMINISTRADORES HUMANOS,
DEMASIADAMENTE DESUMANOS.
A concretização do texto constitucional não é dever apenas do Poder
Executivo e Legislativo, mas também do Judiciário. É certo que, em regra a implementação de
política pública, é da alçada do Executivo e do Legislativo, todavia, na hipótese de injustificada
omissão, o Judiciário deve e pode agir para forçar os outros poderes a cumprirem o dever
constitucional que lhes é imposto. A mera alegação de falta de recursos financeiros, destituída
de qualquer comprovação objetiva, não é hábil a afastar o dever constitucional imposto ao
Município de São Cristóvão de garantir ao meio ambiente equilibrado, fiscalizando o seu uso.
O Judiciário não só pode, como deve proferir decisões que, embora
interfiram no mérito administrativo, tenham por fundamento obrigar o administrador a cumprir
os Princípios da Administração Pública.
O grande mestre Celso de Melo assim comenta:
“Nada há de surpreendente, então, em que o controle jurisdicional dos atos
administrativos, ainda que praticados em nome de alguma discrição, se
estenda necessária e insuperavelmente à investigação dos motivos, da
finalidade e da causa do ato. Nenhum empeço existe a tal proceder, pois é
meio – e, de resto, fundamental – pelo qual se pode garantir o atendimento da
lei, a afirmação do direito.”
Coaduna DI PIETRO:
“não há invasão do mérito quando o Judiciário aprecia os motivos, ou seja, os
fatos que precedem a elaboração do ato; a ausência ou falsidade do motivo
caracteriza ilegalidade, suscetível de invalidação pelo Poder Judiciário”
Neste sentido foi brilhante o Voto da Ministra Eliana Calmom:
“Ao longo de vários anos, a jurisprudência havia firmado o entendimento de
que os atos discricionários eram insusceptíveis de apreciação e controle pelo
Poder Judiciário.
Tratava-se de aceitar a intangibilidade do mérito do ato administrativo, em
que se afirmava, pelo fato de ser a discricionariedade competência
tipicamente administrativa, que o controle jurisdicional implicaria ofensa ao
princípio da Separação dos Poderes.
Não obstante, a necessidade de motivação e controle de todos os atos
administrativos, de forma indiscriminada, principalmente, os em que a
Administração dispõe da faculdade de avaliação de critérios de conveniência
e oportunidade para praticá-los, isto é, os atos classificados como
discricionários, é matéria que se encontra, atualmente, pacificada pela
imensa maioria da doutrina e, fortuitamente, aos poucos acolhida na
jurisprudência de maior vanguarda.
O controle dos atos administrativos, mormente os discricionários, onde a
Administração dispõe de certa margem de liberdade para praticá-los, é
obrigação cujo cumprimento não pode se abster o Judiciário, sob a alegação
de respeito ao princípio da Separação dos Poderes, sob pena de denegação da
prestação jurisdicional devida ao jurisdicionado.
Como cediço, a separação das funções estatais, prevista, inicialmente, por
Rousseau e aprimorada por Montesquieu, desde que se concebeu o sistema de
freios e contrapesos, no Estado Democrático de Direito, tem se entendido
como uma operação dinâmica e concertada.
Explico: As funções estatais, Executivo, Legislativo e Judiciário não podem
ser concebidas de forma estanque. São independentes, sim, mas, até o limite
em que a Constituição Federal impõe o controle de uma sobre as outras, de
modo que o poder estatal, que, de fato, é uno, funcione em permanente autocontrole,
fiscalização e equilíbrio.
Assim, quando o Judiciário exerce o controle “a posteriori” de determinado
ato administrativo não se pode olvidar que é o Estado controlando o próprio
Estado. Não se pode, ao menos, alegar que a competência jurisdicional de
controle dos atos administrativos incide, tão somente, sobre a legalidade, ou
melhor, sobre a conformidade destes com a lei, pois, como se sabe,
discricionariedade não é liberdade plena, mas, sim, liberdade de ação para a
Administração Pública, dentro dos limites previstos em lei, pelo legislador. E é
a própria lei que impõe ao administrador público o dever de motivação.” (art.
13, § 2º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, e art. 2º, VII, Lei nº
9.784/99) STJ, SEGUNDA TURMA, REsp 429570 / GO ; Rel. Min. ELIANA
CALMON, DJ 22.03.2004 p. 277 RSTJ vol. 187 p. 219.
E mais:
“A doutrina moderna tem convergido no entendimento de que é necessária e
salutar a ampliação da área de atuação do Judiciário, tanto para coibir
arbitrariedades em regra praticadas sob o escudo da assim chamada
discricionariedade quanto para se conferir plena aplicação ao preceito
constitucional segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5º, xxxv, CB/88).
O sistema que o direito é compreende princípios e regras. A vigente
Constituição do Brasil consagrou, em seu art. 37, princípios que conformam
a interpretação/aplicação das regras do sistema e, no campo das práticas
encetadas pela Administração, garantem venha a ser efetivamente exercido
pelo Poder Judiciário o seu controle.
De mais a mais, como tenho observado (Meu “O direito posto e o direito
pressuposto”, 5a edição, Malheiros Editores, São Paulo, págs. 191 e ss.), a
discricionariedade, bem ao contrário do que sustenta a doutrina mais antiga,
não é consequência da utilização, nos textos normativos, de “conceitos
indeterminados”. Só há efetivamente discricionariedade quando
expressamente atribuída pela norma jurídica válida à autoridade
administrativa, essa é a margem de decisão à margem da lei. Em outros
termos: a autoridade administrativa está autorizada a atuar
discricionariamente apenas, única e exclusivamente, quando norma jurídica
válida expressamente a ela atribuir essa livre atuação. Insisto em que a
discricionariedade resulta de expressa atribuição normativa à autoridade
administrativa, e não da circunstância de serem ambíguos, equívocos ou
suscetíveis de receberem especificações diversas os vocábulos usados nos
textos normativos, dos quais resultam, por obra da interpretação, as normas
jurídicas. Comete erro quem confunde discricionariedade e interpretação do
direito.
A Administração, ao praticar atos discricionários, formula juízos de
oportunidade, escolhe entre indiferentes jurídicos. Aí há decisão à margem da
lei, porque à lei é indiferente a escolha que o agente da Administração vier
então a fazer. Indiferentes à lei, estranhas à legalidade, não há porque o
Poder Judiciário controlar essas decisões. Ao contrário, sempre que a
Administração formule juízos de legalidade, interpreta/aplica o direito e, pois,
seus atos hão de ser objeto de controle judicial. Esse controle, por óbvio, há
de ser empreendido à luz dos princípios, em especial, embora não
exclusivamente, os afirmados pelo artigo 37 da Constituição.
Daí porque esta Corte tem assiduamente recolocado nos trilhos a
Administração, para que exerça o poder disciplinar de modo adequado aos
preceitos constitucionais. Os poderes de Comissão Disciplinar cessam quando
o ato administrativo hostilizado se distancia do quanto dispõe o art. 37 da
Constituição do Brasil. Nesse sentido, excerto da ementa constante do MS
20.999/DF, Celso de Melo, DJ de 25/5/90: “O mandado de segurança
desempenha, nesse contexto, uma função instrumental do maior relevo. A
impugnação judicial de ato disciplinar legitima-se em face de três situações
possíveis, decorrentes (1) da incompetência da autoridade, (2) da
inobservância das formalidades essenciais e (3) da ilegalidade da sanção
disciplinar. A pertinência jurídica do mandado de segurança, em tais
hipóteses, justifica a admissibilidade do controle jurisdicional sobre a
legalidade dos atos punitivos emanados da Administração Pública no
concreto exercício do seu poder disciplinar.”
É, sim, devida, além de possível, a revisão dos motivos do ato administrativo
pelo Poder Judiciário, especialmente nos casos concernentes a demissão de
servidor público.
Os atos administrativos que envolvem a aplicação de “conceitos
indeterminados” estão sujeitos ao exame e controle do Poder Judiciário.
“Indeterminado” o termo do conceito e mesmo e especialmente porque ele é
contingente, variando no tempo e no espaço, eis que em verdade não é
conceito, mas noção a sua interpretação [interpretação = aplicação] reclama
a escolha de uma, entre várias interpretações possíveis, em cada caso, de
modo que essa escolha seja apresentada como adequada.
Como a atividade da Administração é infra legal administrar é aplicar a lei de
ofício, dizia Seabra Fagundes, a autoridade administrativa está vinculada
pelo dever de motivar os seus atos. Assim, a análise e ponderação da
motivação do ato administrativo informam o controle, pelo Poder Judiciário,
da sua correção.
O Poder Judiciário verifica, então, se o ato é correto. Não, note-se bem – e
desejo deixar isso bem vincado -, qual o ato correto.
E isso porque, repito-o, sempre, em cada caso, na interpretação, sobretudo de
textos normativos que veiculem “conceitos indeterminados” [vale dizer,
noções], inexiste uma interpretação verdadeira [única correta]; a única
interpretação correta que haveria, então, de ser exata é objetivamente
incognoscível (é, in concreto, incognoscível). Ademais, é óbvio, o Poder
Judiciário não pode substituir-se à Administração, enquanto personificada no
Poder Executivo. Logo, o Poder Judiciário verifica se o ato é correto; apenas
isso.
Nesse sentido, o Poder Judiciário vai à análise do mérito do ato
administrativo, inclusive fazendo atuar as pautas da proporcionalidade e da
razoabilidade, que não são princípios, mas sim critérios de aplicação do
direito, ponderados no momento das normas de decisão. Não voltarei ao tema,
até para não maçar demasiadamente esta Corte. O fato porém é que, nesse
exame do mérito do ato, entre outros parâmetros de análise de que para tanto
se vale, o Judiciário não apenas examina a proporção que marca a relação
entre meios e fins do ato, mas também aquela que se manifesta na relação
entre o ato e seus motivos, tal e qual declarados na motivação.
O motivo, um dos elementos do ato administrativo, contém os pressupostos de
fato e de direito que fundamentam sua prática pela Administração. No caso
do ato disciplinar punitivo, a conduta reprovável do servidor é o pressuposto
de fato, ao passo que a lei que definiu o comportamento como infração
funcional configura o pressuposto de direito. Qualquer ato administrativo
deve estar necessariamente assentado em motivos capazes de justificar a sua
emanação, de modo que a sua falta ou falsidade conduzem à nulidade do ato.
Esse exame evidentemente não afronta o princípio da harmonia e
interdependência dos poderes entre si [CB, art. 2°]. Juízos de oportunidade
não são sindicáveis pelo Poder Judiciário; mas juízos de legalidade, sim. A
conveniência e oportunidade da Administração não podem ser substituídas
pela conveniência e oportunidade do juiz. Mas é certo que o controle
jurisdicional pode e deve incidir sobre os elementos do ato, à luz dos
princípios que regem a atuação da Administração.
Daí porque o controle jurisdicional pode incidir sobre os motivos
determinantes do ato administrativo.” STF, Primeira Turma, RMS 24699 /
DF, Rel. Min. EROS GRAU, DJ 01-07-2005 PP-00056, EMENT
VOL-02198-02 PP-00222 RDDP n. 31, 2005, p. 237-238 LEXSTF v. 27, n.
322, 2005, p. 167-183
A atuação jurisdicional de investigação do ato administrativo está mais que
respaldada.
As disposições da Carta Magna que afirmam que o cidadão tem direito à
saúde, à educação, à segurança, ao meio-ambiente saudável, não podem e não devem mais serem
admitidas como regras de conteúdo meramente programáticos, pois isto significaria negar ser
a “Constituição Cidadã”, e estuprar a vontade dirigida do constituinte em ver uma sociedade
justa e equilibrada, onde a Dignidade da Pessoa Humana fosse sempre o norte a ser seguido.
Passando os preceptivos constitucionais a serem tratados como normais
cogentes, de ordem pública, o atendimento se faz por Ato Administrativo Vinculado e não mais
discricionário.
O Administrador moderno precisa entender que, quando constrói uma
escola ou um posto de saúde não deve ser aplaudido como um grande político empreendedor,
pois está cumprindo apenas o que a Constituição ordena.
Afirmou o Réu que a atividade administrativa depende dos recursos
públicos disponíveis para sua consecução, aplicando-se in casu, a reserva do possível.
Significativo relevo ao tema pertinente à “reserva do possível” em sede
de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos
econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste,
prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas.
É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além de
caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização – dependem, em grande
medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do
Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da
pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material
referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política.
Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese –
mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – criar
obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar
e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de
condições materiais mínimas de existência.
A cláusula da “reserva do possível”, ressalvada a ocorrência de justo
motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerarse
do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta
governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos
constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.
Daí a correta ponderação de ANA PAULA DE BARCELLOS (“A
Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais”, p. 245-246, 2002, Renovar):
“Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se
pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem
pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu
fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a
finalidade do Estado ao obter recursos, para, em seguida, gastá-los sob a
forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política pública, é
exatamente realizar os objetivos fundamentais da Constituição. A meta
central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode
ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do homem, cujo
ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade,
que inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições materiais
mínimas de existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade
(o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos
prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá
discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que outros projetos se
deverá investir. O mínimo existencial, como se vê, associado ao
estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de conviver
produtivamente com a reserva do possível.” (grifei)
Os condicionamentos impostos pela cláusula da “reserva do possível”
ao processo de concretização dos direitos de segunda geração – de implantação sempre onerosa -,
traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, na razoabilidade da pretensão
individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, na existência de disponibilidade
financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas.
Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam
de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em
mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de
conformação do legislador, nem a de atuação do Poder Executivo.
É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou
procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos
sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia
estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível
consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência
digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como
precedentemente já enfatizado – e até mesmo por razões fundadas em um imperativo éticojurídico
-, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o
acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado.
Em princípio, o Poder Judiciário não deve intervir em esfera reservada a
outro Poder para substituí-lo em juízos de conveniência e oportunidade, querendo controlar as
opções legislativas de organização e prestação, a não ser, excepcionalmente, quando haja uma
violação evidente e arbitrária, pelo legislador, da incumbência constitucional.
No entanto, parece-nos cada vez mais necessária a revisão do vetusto
dogma da Separação dos Poderes em relação ao controle dos gastos públicos e da prestação dos
serviços básicos no Estado Social, visto que os Poderes Legislativo e Executivo no Brasil se
mostraram incapazes de garantir um cumprimento racional dos respectivos preceitos
constitucionais.
A eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais a prestações materiais
depende, naturalmente, dos recursos públicos disponíveis; normalmente, há uma delegação
constitucional para o legislador concretizar o conteúdo desses direitos. Muitos autores entendem
que seria ilegítima a conformação desse conteúdo pelo Poder Judiciário, por atentar contra o
princípio da Separação dos Poderes.
Muitos autores e juízes não aceitam, até hoje, uma obrigação do Estado
de prover diretamente uma prestação a cada pessoa necessitada de alguma atividade de
atendimento médico, ensino, de moradia ou alimentação. Nem a doutrina nem a jurisprudência
têm percebido o alcance das normas constitucionais programáticas sobre direitos sociais, nem
lhes dado aplicação adequada como princípios-condição da justiça social.
A negação de qualquer tipo de obrigação a ser cumprida na base dos
Direitos Fundamentais Sociais tem como consequência a renúncia de reconhecê-los como
verdadeiros direitos. Está crescendo o grupo daqueles que consideram os princípios
constitucionais e as normas sobre direitos sociais como fonte de direitos e obrigações e admitem
a intervenção do Judiciário em caso de omissões inconstitucionais.
O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal
quanto mediante inércia. A situação pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público,
que age em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os
princípios que nela se acham consignados. Se deixar de adotar as medidas necessárias à
realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e
exequíveis, abstendo-se, em consequência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição
lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Esse non facere ou non
praestare, pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é
insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público.
A omissão, quando deixa de cumprir a imposição ditada pelo texto
constitucional, qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica,
eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende
direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a
própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental.
Consoante já proclamou a Suprema Corte, o caráter programático das
regras inscritas no texto da Carta Política “não pode converter-se em promessa constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever,
por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado” (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
A meta central das Constituições de 1988 é a promoção do bem-estar do
homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que
inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de existência. Ao
apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão
estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é
que se poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que outros projetos se
deverá investir.
A garantia de preservação feita pela CF, de 1988 é atribuída,
primordialmente, ao MPE, que o alçou a agente de promoção dos valores e direitos
indisponíveis. Assim, o nobre Parquet, foi transformado em Idealizador do Bem Social.
A concretização do texto constitucional não é dever apenas do Poder
Executivo e Legislativo, mas também do Judiciário. É certo que, em regra a implementação de
política pública, é da alçada do Executivo e do Legislativo, todavia, na hipótese de injustificada
omissão, o Judiciário deve e pode agir para forçar os outros poderes a cumprirem o dever
constitucional que lhes é imposto. A mera alegação de falta de recursos financeiros, destituída
de qualquer comprovação objetiva, não é hábil a afastar o dever constitucional imposto.
É certo que a efetividade dos direitos prestacionais está sujeita a diversas
condicionantes impostas ora como solução conveniente, ora como reflexo do incipiente processo
de concretização constitucional que ainda encontra defensores na doutrina e na jurisprudência
pátrias.
Inquestionável, porém, que a atuação dos juízes assuma papel de especial
relevância. Isto porque, na condição de intérpretes e aplicadores últimos do direito, a eles
compete assegurar o máximo de efetividade às normas constitucionais.
É incompreensível acreditar que a efetividade dos direitos fundamentais
esteja a cargo exclusivo da Administração Pública e do Legislativo, descomprometendo o Poder
Judiciário.
Se algum dos poderes constituídos não desempenhar a contento seu
mister constitucional, cumpre aos demais suprir tal deficiência, de modo que a sociedade
brasileira usufrua, de todos os direitos sociais resultantes do texto constitucional. Deste modo,
será construído um processo sólido de aperfeiçoamento democrático.
Sendo assim, a concretização dos direitos prestacionais exige a superação
do obstáculo, por vezes falacioso e conveniente, da insuficiência de recursos públicos. Cumprirá
ao juiz, no caso concreto, avaliar a consistência de tal argumento e os limites da reserva do
possível, sob pena de comprometer desnecessariamente a efetividade dos direitos sociais.
Pode-se inferir que a cláusula da reserva do possível, ressalvada a
ocorrência de justo motivo objetivamente auferível, qual seja, a comprovação objetiva da
alegação de incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, não pode ser invocada pelo
Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações
constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar
nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de
essencial fundamentalidade.
Os fatos alegados pelo Autor foram suficientemente demonstrados.
Através do Inquérito Civil nº 078/2011, instaurado pelo MPE, ficou evidenciada a destruição de
área de preservação permanente, realizada sem autorização do órgão ambiental competente.
Nos termos do Art. 225, da Carta Magna, “todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
Na regulação da propriedade existe área que, por sua própria natureza,
impõe limitações ao exercício do direito de propriedade e cuja preservação também é realizada
com vistas ao bem-estar dos cidadãos, valor fundante do Estatuto da Cidade. Tal área é nominada
como área de preservação permanente, definida no Código Florestal como “área protegida nos
termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem
estar das populações humanas”.
Explicita o Código Florestal, portanto, fim específico da área de
preservação permanente: “assegurar o bem estar das populações humanas”. A área de
preservação permanente possui a natureza jurídica de limitação administrativa, cuja noção está
ligada ao conceito de bem estar: “Limitação administrativa é toda imposição geral, gratuita,
unilateral e de ordem pública condicionadora do exercício de direitos ou de atividades
particulares às exigências do bem-estar social.”(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo
brasileiro, 26a ed, São Paulo: Malheiros, 2.001, p.568.)
As áreas de preservação permanente existem, não em razão da vontade
do homem, mas de necessidade imposta pela realidade.
O Código Florestal, em sua exposição de motivos, já ressaltava este
aspecto:
“Assim como certas matas seguram pedras que ameaçam rolar, outras
protegem fontes que poderiam secar, outras conservam o calado de um rio
que poderia deixar de ser navegável, etc. São restrições impostas pela própria
natureza ao uso da terra, ditadas pelo bem-estar social. Raciocinando deste
modo os legisladores florestais do mundo inteiro vêm limitando o uso da terra
sem cogitar de qualquer desapropriação para impor essas restrições ao uso.
Fixam-nas em leis, com um vínculo imposto pela natureza e que a lei nada
mais fez do que declará-lo existente.”
Comentando a área de preservação permanente no Código Florestal de
1934, Osny Duarte Pereira:
“Sua conservação não é apenas por interesse público, mas por interesse direto
e imediato do próprio dono. Assim como ninguém escava o terreno dos
alicerces de sua casa, porque poderá comprometer a segurança da mesma, do
mesmo modo ninguém arranca as árvores das nascentes, das margens dos
rios, nas encostas das montanhas, ao longo das estradas, porque poderá vir a
ficar sem água, sujeito a inundações, sem vias de comunicação, pelas
barreiras e outros males conhecidamente resultantes de sua insensatez. As
árvores nesses lugares estão para as respectivas terras como o vestuário está
para o corpo humano. Proibindo a devastação, o Estado nada mais faz do que
auxiliar o próprio particular a bem administrar os seus bens individuais,
abrindo-lhe os olhos contra os danos que poderia inadvertidamente cometer
contra si mesmo.” (Direito florestal brasileiro. Rio de Janeiro: Borsoi, 1950, p.
210.)
Paulo Maurício Pinho, traz importantes considerações sobre os
benefícios das áreas de preservação.
“As funções da área de preservação permanente são definidas pelo Código
Florestal, no artigo 1º, II: preservar os recursos hídricos, a estabilidade
geológica, a biodiversidade e o fluxo gênico de fauna e flora; proteger o solo e
assegurar o bem estar das populações humanas. Especificamente nas áreas
urbanas, essas funções se projetam nos seguintes benefícios da cobertura
vegetal: 1 contenção de enchentes, principalmente em áreas de solos propícios
ao processo de erosão; 2. aumento da umidade relativa do ar; 3. ameniza a
temperatura em climas tropicais e equatoriais; 4 dispersa poluentes e absorve
ruídos urbanos; 5 funciona como elemento paisagístico na orientação urbana
e rural; 6 pode bloquear o vento indesejável em áreas urbanas; 7 barreiras
verdes também podem direcionar o vento para locais desejados e, 8 ajuda na
preservação de espécies de pássaros”.(PINHO, Paulo Maurício. Aspectos
ambientais da implantação de ‘vias marginais’ em áreas urbanas de fundos de
vale. São Carlos, 1999, 133 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil).
Universidade Federal de São Carlos, apud MUSETTI, Rodrigo Andreotti. Da
proteção jurídico-ambiental dos recursos hídricos brasileiros. Leme: LED,
2.001, p. 163).
A verdade é que as cidades vivem uma relação de amor e ódio com seus
rios. Razão maior, muitas vezes, do povoamento de determinado local (transporte, pesca, e,
sobretudo e por óbvio, a existência de água, possibilitando o abastecimento), os rios, que em um
primeiro momento propiciaram o desenvolvimento das cidades, passam a ser considerados
inimigos destas, geradores de inundações, viveiro de mosquitos, e destino do esgoto (coletado,
nunca tratado). As casas são construídas de costas para o rio, para que não se veja o indesejável.
E o que se constata em todas as cidades é o cenário desanimador: edificações às margens dos
rios; rios latrinas, destino do esgoto doméstico e industrial; nas margens, nenhuma vegetação. E
o que dizer das nascentes que lhes dão vida, muitas vezes aterradas, volta e meia insistindo e
agonizando ao brotar em garagem de prédio residencial ou mesmo em shopping? Ou das
mortandades de peixes, pela falta de oxigênio, gerada pelo esgoto, ou vazamento de óleo (postos
de gasolina, oficinas e etc.).
O desrespeito à área de preservação permanente afeta o equilíbrio
ambiental, por conseguinte, não haverá o almejado bem estar dos cidadãos. Lembremos que à
medida que um núcleo urbano cresce e se densifica, cresce o uso dos recursos naturais
disponíveis, eliminam-se coberturas vegetais para a abertura de novos loteamentos; e, muito
embora seja a natureza composta de elementos que se constituem em poderosos recursos para a
construção de um habitat urbano saudável e benéfico a todas as formas de vida, se estes forem
ignorados e desrespeitados transformam-se em sérios problemas ou até em catástrofes, como
aquelas que há séculos têm castigado as cidades, como é o caso dos deslizamentos e das
enchentes ou inundações.
O ordenamento jurídico brasileiro não permite que sejam degradadas
áreas de preservação ambiental permanente. Todo aquele (pessoa física ou jurídica) que
descumprir o esse dever, enquadrar-se-á na situação jurídica de degradador (Art. 3º, IV, Lei
6.938/81) e estará sujeito às sanções previstas em âmbito administrativo, cível e criminal, como
determinado no Art. 225, § 3º da CF/88.
No âmbito cível o degradador poderá ser condenado judicialmente à
reparação dos danos ambientais causados, bem como às obrigações de fazer e não fazer
necessárias à cessação da atividade lesiva ao meio ambiente.
No que tange ao Poder Público, a obrigação de zelar pela proteção ao
meio ambiente é plenamente vinculada. Ademais, a discricionariedade administrativa não
legitima a conduta omissiva lesiva aos bens ambientais. O texto constitucional, no art. 225,
determina a obrigação do Poder Público, ou daquele que fizer suas vezes, de promover a defesa
do meio ambiente, não podendo causar poluição e destruição, atividades completamente
proscritas e danosas à sociedade.
O acervo documental trazido aos autos demonstram a existência de
destruição de vegetação nativa às margens do Rio Poxim, em área de preservação permanente.
Constatada a existência de prejuízos ao meio ambiente causados pela
destruição da vegetação às margens do Rio, tendo agido o particular contrariamente às normas
definidas pelas autoridades ambientais competentes, e ainda, tendo o Poder Público, se omitido,
ante sua obrigação de fiscalização, é plenamente admissível, além de inevitável, sua condenação,
como agente degradador, à reparação dos prejuízos causados, consistente na realização de obras
voltadas a recuperação da área degradada, em cumprimento aos Arts. 2º, VIII, e 4º, VII, da Lei n.
6938/1981.
Assim, não apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de
reparação, mas também a privação do equilíbrio ecológico, do bem estar e da qualidade de vida
imposta à coletividade.
A responsabilidade civil do causador de danos ambientais, funda-se
basicamente no Art. 225, § 3º, da CF/88 e no Art. 14, § 1º da Lei 6938/81, consagrando a Teoria
Objetiva, para exigir somente a comprovação da conduta, o dano e o nexo de causalidade no
sentido de impor o dever de reparar, sem necessidade de indagação a respeito de dolo ou culpa
do poluidor, como ocorreria no direito civil clássico.
O legislador pátrio, com a edição da Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente – Lei n. 6.938/81 – criou, em seu Art. 14, § 1º, o regime da responsabilidade civil
objetiva pelos danos causados ao meio ambiente. Dessa forma, é suficiente a existência da ação
lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de
reparação.
Comprovada a lesão ambiental, torna-se indispensável que se estabeleça
uma relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano dele advindo. Para
tanto, não é imprescindível que seja evidenciada a prática de um ato ilícito, basta que se
demonstre a existência do dano para o qual exercício de uma atividade perigosa exerceu uma
influência causal decisiva.
No dano ambiental, assim exposto, a regra é a responsabilidade civil
objetiva, na qual aquele que através de sua atividade cria um risco de dano para terceiro deve ser
obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e seu comportamento sejam isentos de culpa.
Patentemente demonstrado o ato causador do dano, impõe-se sua
responsabilização em razão de sua omissão, compelindo o Município a FAZER.
Atualmente existem três sistemas que buscam compelir quem não cumpre
a sua obrigação legal de fazer/não fazer in natura:
a) A Primeira, a Tutela Ressarcitória, oriunda do Direito Francês, que
faz converter a inexecução culposa de obrigação em Perdas e Danos, o que é muito pouco e
estéril, ainda constante do Código Civil. Resta de tudo mero ressarcimento…
b) A Segunda, também derivada do Direito Francês, nominada como
Tutela Específica, em superação àquela primeira, elegeu a astreinte como meio de coerção,
buscando o cumprimento da obrigação consoante foi contratada. O problema desta via é que,
diante do chamado “inadimplemento absoluto”, que não permite a satisfação após o termo, ou a
ausência de patrimônio do Devedor, a multa processual é inócua, por que gera mera Vitória
Pírrica.
c) A Terceira via, que vem sendo paralelamente desenvolvida pelo
Direito Germânico e Inglês(common law), já busca alternativas de coerção mais eficazes, diante
do ato de Indignidade da pessoa obrigada, como o Sequestro em contas públicas, quando a
inadimplência for do Poder Público; a constrição de 30% do Salário (margem consignável) de
contumazes devedores particulares, relativizando o Princípio da Intangibilidade Salarial; ou até
com a Prisão Civil, a exemplo do que acontece com a prestação de alimentos.
O comtempt of court do comom law, afasta a prisão imediata como meio
de coerção, mas ordena o enquadramento do inadimplente em flagrante delito por Crime de
Desobediência ou Desacato. Este deve ser o nosso futuro, para conferir Eficiência a ordem
judicial, porque a resistência que este sistema ainda encontra no nosso Direito é ante a falta de
tipo jurídico-penal específico, o que não obsta o enquadramento em qualquer daqueles genéricos.
Nesta seara, o novo Código Civil de 2002 é natimorto, porque ainda
apegado à provecta Tutela Ressarcitória. O Código de Defesa do Consumidor elegeu a Tutela
Específica como regra, a despeito do que contém o Art. 84. O Art. 461 do CPC copiou
literalmente aquele versículo, transmudando a antiga e estéril Sentença Condenatória de
Obrigação de Fazer em autêntica Sentença Executiva, passando o Poder Judiciário a ser
responsável pelo cumprimento da decisão de mérito, municiando o Juiz com poderes no sentido
de fazer cumprir a Tutela Definitiva deferida, sem que isto importe em arbítrio.
Dentro do invocado Art. 461 do CPC encontramos a estipulação de ofício
pelo Magistrado de Preceito Cominatório, e a plena consagração do Poder Geral de Cautela,
com medidas protetivas enumeradas enunciativamente.
A respeito do requerimento formulado na inicial, dispõe o Art. 4º, da Lei
nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (com a redação conferida pela Lei nº 10.257/01): “Poderá ser
ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o dano ao meio
ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística ou aos bens e direitos e valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico”.
E, o Art. 11, dispõe: “Na ação que tenha por objeto o cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade
devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação
de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do
autor.”
A nova ordem Constitucional transmudou filosoficamente as
características do Estado Contemporâneo Democrático, efetivando o: compromisso concreto
com a Função Social; Caráter Intervencionista; e Ordem Jurídica Legítima com respeito à
liberdade de participação.
Ocorreu o abandono conceitual do antigo ESTADO LIBERAL que era
individualista, patrimonialista, ausente do controle das relações privadas; ausente no controle da
família, valorizando a autonomia ampla da vontade e liberdade de contratar; respeitando
irrestritamente a força obrigatória dos contratos; e fazendo sacrossanto o direito de propriedade
privada.
A Transmudação para o ESTADO SOCIAL o fez pluralista; socialista;
respeitador da dignidade da pessoa humana; passando a ter controle sobre as relações privadas;
com limitação da autonomia da vontade; limitação da liberdade de contratar; observando a
função social dos contratos; e a função social da propriedade privada.
O novo Estado Social-Intervencionista não reflete apenas na seara do
direito material, mas provoca a mudança de postura do Poder Judiciário diante do Processo. Este
deixa de ser apenas um mero instrumento de composição de litígios particulares e passa a ser um
“instrumento de massas”.
Tal mudança de postura reflete na chamada jurisdição constitucional,
que compreende, o controle judiciário da constitucionalidade das leis – e dos atos da
Administração, bem como a denominada jurisdição constitucional das liberdades, com o uso dos
remédios constitucionais processuais – habeas corpus, mandado de segurança, mandado de
injunção, habeas data, ação civil pública e ação popular.
Invoco a lição do Mestre Pedro Lenza, ao examinar uma a uma as
mudanças conceituais trazidas pela lei que regula a Ação Civil Pública. in Teoria Geral da
Ação Civil Pública, pag. 377:
“Em relação à Justiça das decisões, imprescindível a mudança de postura da
magistratura. Isso porque, conforme visto, todas essas transformações
também influenciarão o juiz que, além de ter o exato conhecimento da
realidade sócio-política-econômica do País onde judicia, deverá assumir um
papel ativo na condução do processo, superando a figura indesejada do
‘Magistrado Estátua’.
Imparcialidade não deve ser confundida com ‘neutralidade’, ou comodismo.
O juiz deve ter uma participação mais efetiva, especialmente, quando o objeto
da discussão envolver bens transindividuais.”
A exagerada preocupação com as garantias dos direitos individuais, de
respeito sacrossanto à propriedade privada, da liberdade pessoal do cidadão, e o excesso de
pudor democrático, para preservação do Princípio da Separação dos Poderes da República,
porque colocam um hipócrita manto protetor sobre “travestidos marginais sociais”, foi objeto
de lúcidas divagações originadas pelo grande Mestre OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA, nos
seguintes termos:
“Intriga-me sobremodo esse ardor com que o sistema exalta a inviolabilidade
pessoal e esse respeito exaltado pela liberdade humana, quando a Inglaterra,
por exemplo, considerada por todos o berço das liberdades civis, não vacila
em colocar na prisão aqueles que não cumprem as ordens judiciais. Sou
levado a supor que nós os brasileiros, tenhamos excedido todos os limites na
preservação das liberdades democráticas e no respeito à dignidade da pessoa
humana, deixando para traz os demais povos. Se isto não fosse uma simples e
trágica ironia, poderíamos imaginar-nos capazes de dar lições de democracia
e respeito individuais aos ingleses.” (Mandamentalidade e autoexecutoriedade
das decisões judicias. Revista EMERJ, v. 5, n. 18. 2002, p 33).
Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o
Município de São Cristóvão nas seguintes obrigações de fazer:
a) promover a fiscalização das áreas de preservação permanente localizadas em São Cristóvão; e b) promover, no prazo de 1(um) ano, a revitalização e o replantio da mata ciliar do Rio Poxim, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00(mil reais), diretamente ao Prefeito Municipal, em caso de descumprimento, a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, sem prejuízo de outras disposições de direito, inclusive o enquadramento em Crime contra o Meio Ambiente e de Desobediência.
b) Em caso de impossibilidade técnica ambiental demonstrada, condeno o
Réu a indenizar no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais), o dano ambiental, a ser revertido na forma do Art. 13 da LACP.
Condeno o Réu no pagamento de custas processuais.
P.R.I.
São Cristóvão/Se, 19 de junho de 2012.
Manoel Costa Neto
Juiz de Direito