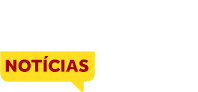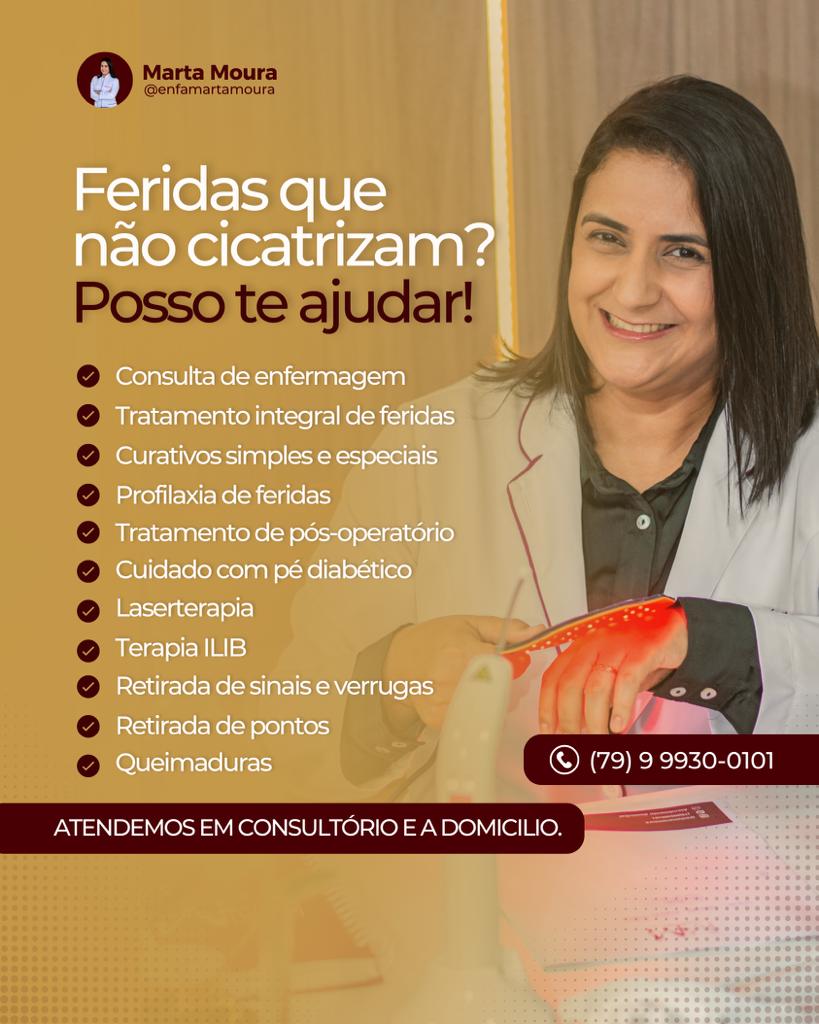É fato científico que as vacinas trazem muito mais benefícios do que os possíveis efeitos adversos. Mas um grupo de pessoas vem optando por não imunizar os filhos para doenças que deixaram de ser comuns, como o sarampo e a difteria.

Calendário básico de vacinação: até os 10 anos de idade, a criança deve tomar as 28 doses das vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (Thinkstock)
Antes de ser erradicada com o uso maciço de vacinas, no final dos anos 1970, a varíola matou 300 milhões de pessoas, contando apenas o século XX. O sarampo, uma doença altamente contagiosa, foi responsável por cerca de 2,6 milhões de mortes por ano, antes de 1980, época em que começaram as intensas campanhas de vacinação. Já os casos de poliomielite, doença que pode causar paralisia infantil, apresentaram uma queda de 99% desde 1988, quando, mais uma vez, a prevenção com vacina teve início. Criadas em 1796, pelo médico britânico Edward Jenner, as vacinas deram início a uma revolução na medicina preventiva – tornando possível evitar a ocorrência de doenças letais e contagiosas. Há quem, no entanto, na contramão de todas as evidências científicas, opte por não vacinar seus filhos. A lamentável ideia encontrou abrigo entre um grupo de pais, grande parte da classe média alta, que vem optando por não imunizar os filhos para doenças que deixaram de ser comuns, como o sarampo e a difteria. Alguns por acreditarem em teorias exóticas e fraudulentas, outros por medo de que a vacina prejudique a saúde da criança e outros ainda, por questões ideológicas, pensam resistir ao que seria uma imposição criada pela indústria farmacêutica. Por um motivo ou outro, a irresponsabilidade pode colocar em risco não só a saúde da criança, mas de todos à sua volta, alertam especialistas.
“O que estamos percebendo é que há um aumento, mesmo que pequeno, no número de pais que buscam médicos que orientam a não vacinar a criança”, diz Eitan Berezin, presidente do Departamento Científico Infeccioso da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Apesar de representarem ainda uma pequena parcela da população brasileira, esses pais que optam por não imunizar os filhos para determinadas doenças se concentram nas classes mais altas da sociedade, aquelas que, pelo menos na teoria, tiveram e têm acesso a informação de boa qualidade. Entre os argumentos mais triviais para a recusa está o medo de que a vacina traga problemas sérios de saúde, como o autismo, e a sensação de que é desnecessário se prevenir contra doenças que têm ocorrência baixa.
“Os riscos de a criança desenvolver uma complicação séria em função da vacina são muito menores do que os de ela contrair a doença. Não há nem comparação. E isso não é algo que eu acho ou acredito, é um fato comprovado cientificamente”, diz o pediatra americano Paul Offit, um dos maiores especialistas no assunto. Além de professor da Universidade da Filadélfia, é ex-membro do Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês) e autor dos livros Deadly Choices: How the Anti-Vaccine Movement Threatens Us All (Escolhas mortais: como o movimento anti-vacina ameaça a todos nós, sem edição em português) e Autism’s False Prophets: Bad Science, Risky Medicine, and the Search for a Cure (Falsos profetas do autismo: ciência ruim, medicina de risco e a procura pela cura, também sem edição em português).
Abastados e desprotegidos — De acordo com um levantamento recente feito a pedido do Ministério da Saúde, e publicado no periódico médico Vaccine, 82,6% das crianças brasileiras tomaram todas as vacinas recomendadas até os 18 meses de idade. O estudo, que avaliou 17.295 crianças das 27 capitais, descobriu, no entanto, um dado inusitado: nas classes mais ricas das capitais mais ricas a vacinação era deficitária. Em São Paulo, por exemplo, 71% das crianças do estrato A (o mais rico) haviam recebido a imunização completa — enquanto no estrato E (o mais pobre), a cobertura era de 81%. “Uma das razões para essa discrepância é a ideia de que é exagero vacinar os filhos contra algumas doenças”, diz José Cassio de Moraes, professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, membro do Comitê Técnico Assessor de Imunização do Ministério da Saúde e coordenador da pesquisa.
As vacinas que costumeiramente são mais descartadas são a de sarampo, difteria, hepatite B e da gripe. “Desde a década de 1970 os casos dessas doenças são muito baixos. Esses pais nunca tiveram de lidar, de temer essas doenças, então deixam de vacinar acreditando que o filho não corre riscos”, diz Edécio Cunha Neto, diretor do Laboratório de Investigação Médica de Imunologia Clínica e Alergia da USP. Mas, se para muitos a redução drástica nos casos dessas doenças é motivo para burlar o calendário básico de vacinação, para outros, ela pode significar sérias complicações de saúde.
Vacinas causam autismo?
Não existe nenhuma evidência científica que comprove que qualquer vacina possa levar ao desenvolvimento do autismo. O alarde sobre o assunto teve início em 1998, quando o médico britânico Andrew Wakefield publicou um artigo no periódico The Lancet correlacionando a vacina tríplice viral com a doença. A tese foi desmascarada seis anos depois, pelo jornalista Brian Deer, como sendo uma fraude.
Imunidade coletiva — Há dentro dos programas de vacinação o que se costuma chamar de imunidade de rebanho. A ideia é que quando você vacina, no mínimo, 95% das crianças de uma comunidade, todas ficam protegidas. Nesses 5% restantes, explicam os especialistas, estariam aquelas que por algum motivo não podem tomar vacina. No grupo estão, segundo Renato Kfouri, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim), crianças com câncer, aids, com insuficiência renal ou com outras doenças crônicas que comprometem o sistema imunológico. “Elas se protegem quando há a garantia de que as outras crianças não vão transmitir a doença para ela. Vacinar o filho é mais do que uma ação individual”, diz.
Quando uma criança é vacinada, formas amenizadas ou mortas de vírus ou de bactérias que causam doenças são injetadas dentro do corpo. O sistema imunológico reconhece esses organismos e desenvolve anticorpos contra eles. Esses anticorpos ficam, então, armazenados dentro do batalhão de células de defesa do corpo, para combater a doença em caso de uma exposição futura. Se a criança não é vacinada, no entanto, ela obviamente se torna suscetível à doença — e pode se tornar um potencial agente de transmissão e até mesmo iniciar um surto.
Vacinas demais? — É esse mecanismo usado para criar os anticorpos que preocupa algumas pessoas. Há quem diga que os riscos de efeitos adversos não valham a pena, se a criança tem uma saúde plena. “Não sou contra vacinar, mas acredito que existe hoje um exagero. Há vacinas demais”, afirma Liliane Azambuja, pediatra homeopata e criadora da comunidade virtual Tem Vacina D+. De acordo com a médica, as chamadas doenças da infância, como o sarampo, ajudam a fortalecer o sistema imunológico da criança saudável. “Cerca de 90% das crianças que chegam ao meu consultório têm algum tipo de alergia. Elas são mais atópicas do que as crianças de décadas atrás. Claro que há outros fatores envolvidos, mas a vacina tem um papel importante”, diz.
Para a pediatra, seria ideal ainda que o calendário fosse repensado e as vacinas fossem dadas em períodos mais esparsos e tardios. A época de início da imunização mais adequada, seria, então, aos seis meses de idade, quando o sistema imunológico do bebê já está mais amadurecido. “Uma enorme quantidade de organismos inoculados é dado de uma vez a uma criança de meses. Acho isso muito agressivo, além de acreditar que possa ajudar a desenvolver doenças autoimunes”, diz Liliane. É bom lembrar que o sarampo é uma doença altamente contagiosa e, embora na maioria dos casos não coloque em risco crianças saudáveis, pode ser fatal para pessoas com o sistema imunológico sem resistência.
Vizinhança de risco — Felizmente, o movimento antivacinação ainda engatinha no Brasil. Em países da Europa e nos Estados Unidos, no entanto, ele vem causando surtos que preocupam as autoridades de saúde. Grupos antivacinação sempre existiram, mas em 1998 ganharam o reforço que sempre esperaram. Um estudo publicado em um dos principais periódicos médicos do mundo, o britânico Lancet, de autoria do médico Andrew Wakefield, alegava que 12 crianças que eram normais até receberem a vacina tríplice viral se tornaram autistas depois de desenvolverem inflamações intestinais. O estrago provocado foi grande. Após a divulgação da pesquisa, muitos pais optaram por deixar de vacinar os filhos contra as doenças infantis. Como resultado, houve um aumento dos casos de sarampo na Europa e nos Estados Unidos, onde a ideia de que vacinas fazem mal também prosperou. Em 2008, tanto o País de Gales quanto a Inglaterra registraram epidemias de rubéola.
O estudo, porém, era uma fraude. O jornalista Brian Deer desmascarou Wakefield, no British Medical Journal, ao provar que cinco das 12 crianças já tinham problemas de desenvolvimento, fato encoberto pelo médico. Várias pesquisas e investigações (britânica, canadense e americana) foram feitas depois do controvertido estudo, que só levou em conta a pequena amostragem de 12 crianças, e não encontraram relação entre o aparecimento do autismo e a vacina tríplice.
Wakefield perdeu a licença médica, mas continua com certo prestígio nos Estados Unidos, onde vive e ainda defende a ideia de que vacinas podem causar autismo. Influenciada por Wakefield, uma celebridade de miolo mole chamada Jenny McCarthy, cujas grandes credenciais científicas incluem ser ex-namorada de Jim Carrey e ex-coelhinha da Playboy, atribui o autismo de seu filho às vacinas e vai frequentemente à TV convencer os pais a não vacinarem seus filhos. O resultado da nefasta dupla ainda pode ser sentido em dois continentes. De acordo com o Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, em 2011 foram registrados 30.567 casos de sarampo em 29 países da Europa. Em 2009, foram 7.175. Nos Estados Unidos, o estado de Indiana registrou 14 casos de sarampo, em fevereiro, depois que duas pessoas contaminadas foram assistir aos jogos do Super Bowl. Dos contaminados, 13 não haviam sido imunizados.
No Brasil, surtos do gênero ainda são pequenos. No estado de São Paulo, foram registrados, em 2011, 26 casos de sarampo. Desses, 60% ocorreram em pessoas não vacinadas — sete em crianças menores de um ano, cinco em indivíduos não vacinados por opção e quatro casos sem vacina documentada. Já na capital paulista foram 13 casos, com 10 ocorrendo em função da falta de vacina. O surto teve início em uma creche no bairro do Butantã, em seis bebês menores de um ano (idade indicada para a primeira dose), passando para quatro crianças com idades entre cinco e 10 anos (que não haviam sido imunizadas). “Esses surtos costumam acontecer em bolsões pequenos, porque essas crianças não vacinadas frequentam as mesmas escolas. Mas há sempre o risco, porque o vírus continua em circulação”, diz Jarbas Barbosa, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
Dentro da lei — A garantia da vacinação está, no entanto, institucionalizada no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Consta no artigo quarto que é dever da família assegurar a efetivação dos direitos à saúde. Não há, no entanto, nenhuma fiscalização que obrigue os pais a vacinar corretamente os filhos. Mas, de acordo com Ricardo Cabezón, presidente da Comissão de Estudos do ECA da Ordem dos Advogados de São Paulo, cabe aos pais gerenciar esses direitos, e não dispor deles. “Se a criança vier a adoecer em função de uma falha na vacinação, isso pode levar à perda do poder familiar. Os pais podem responder por crime de abandono, omissão dolosa ou culposa”, diz.
Para o advogado, há uma diferença entre a escolha pessoal entre diversos tratamentos (que podem ser guiados pelas crenças e filosofias dos pais) e a recusa dos mesmos. “Só se pode tomar uma decisão como essa quando há embasamento científico que o fundamente. Não vai vacinar porque tem medo de alguma complicação? Então, tenha todas as provas científicas emitidas por autoridades médicas”, diz. Do contrário, garante Cabezón, os pais correm o risco até mesmo de perder a guarda da criança. “Há uma série de medidas que um juiz pode tomar para garantir o direito da criança à saúde.”
Clique aqui e leia a matéria completa no site da VEJA